Existem certos nomes no mundo do terror que carregam um peso específico, uma promessa. Bloober Team é um desses nomes. Para mim, eles são os arquitetos da loucura moderna, os mestres em transformar corredores em extensões da psique humana. Por isso, quando me sentei para jogar Cronos: The New Dawn, eu não estava apenas abrindo mais um jogo; eu estava aceitando um convite para uma nova descida ao inferno psicológico. Minha expectativa era clara: eu queria ser assombrado, queria que o jogo se infiltrasse nos meus pensamentos e ficasse lá, remoendo, muito depois de eu desligar o PC.
Os primeiros momentos foram exatamente o que eu esperava. O silêncio. A arquitetura brutalista, fria e imponente. Um mundo morto que respirava uma melancolia palpável. Senti um arrepio familiar, um eco dos mestres que vieram antes. Havia um pouco da desolação de Silent Hill na névoa e no concreto, e um toque da tensão tática de Resident Evil na forma como eu segurava minha arma, cada bala parecendo preciosa. Era um dialeto que eu conhecia, uma linguagem de medo que eu falava fluentemente. Eu estava em casa, em um lugar onde não deveria me sentir confortável. E por um tempo, foi perfeito. Mas, à medida que as horas avançavam, uma dissonância começou a surgir, uma rachadura na fundação desse pesadelo tão bem construído. O jogo que prometia sussurrar em minha mente começou a gritar, e a jornada que deveria ser uma exploração da minha própria sanidade começou a se parecer com um teste de reflexos. Foi nesse momento que a minha conexão inicial, essa lua de mel com o horror, deu lugar a um dilema que definiria toda a minha experiência: será que a alma assombrada de Cronos conseguiria sobreviver ao barulho de suas próprias ambições?
Ecos de um Amanhã Morto
A narrativa de Cronos se enrola em torno de uma premissa que é, ao mesmo tempo, grandiosa e intimista. O mundo acabou. O que sobrou é uma carcaça brutalista, um futuro distópico onde a humanidade é apenas uma memória enferrujada. Você, como protagonista, é uma espécie de catador de fantasmas, equipado com a habilidade de mergulhar no passado para coletar as “almas”, os ecos psíquicos, de momentos-chave que levaram ao colapso. A ideia é costurar esses fragmentos de memória para entender o que deu errado. É um conceito poderoso, que transforma a investigação de uma catástrofe global em uma arqueologia da dor humana.

Fiel à sua forma, o estúdio conta a maior parte dessa história não com diálogos expositivos, mas com o próprio mundo. Cada ambiente é um diorama da decadência. A arquitetura, essa mistura de brutalismo soviético com um retrofuturismo oitentista que deu errado, fala mais do que qualquer personagem. As paredes de concreto nuas, os terminais de computador obsoletos piscando mensagens de erro, os móveis de design funcional agora cobertos de poeira e desespero, tudo isso constrói uma narrativa de um futuro que foi sonhado com otimismo tecnológico, mas que colapsou sob o peso de sua própria desumanidade. É aqui que o estúdio brilha. Eles não precisam me dizer que a sociedade se tornou fria e impessoal; eles me fazem andar por corredores que são, eles mesmos, monumentos à alienação.
No entanto, onde a narrativa ambiental é uma sinfonia, a trama explícita por vezes tropeça. Há mistérios que são instigantes, como a verdadeira natureza das entidades que enfrentamos e a identidade do primeiro catalisador do apocalipse. Mas o roteiro deixa algumas pontas soltas que frustram, como a origem exata do vírus ou da anomalia temporal, que permanece nebulosa até o fim. O verdadeiro triunfo da história, para mim, está em uma camada mais profunda. A mecânica de viajar no tempo para “coletar almas” transcende o clichê de ficção científica quando a interpretamos como uma metáfora para a terapia. O futuro destruído é a psique traumatizada no presente. Voltar ao passado não é sobre mudar a história, mas sobre confrontar memórias dolorosas, as “almas” perdidas, para entender e, talvez, aceitar a catástrofe que formou quem você é. Cada alma coletada é um fragmento de trauma sendo integrado. Nessa leitura, Cronos se torna uma jornada profundamente pessoal pela reconstrução de um eu estilhaçado.
Sobrevivendo ao Peso do Passado
Quando pego no controle (Sim, optei por jogar no controle pelo PC), a alma da narrativa dá lugar ao concreto da jogabilidade. A estrutura se ancora firmemente nas convenções do survival horror moderno: uma câmera posicionada sobre o ombro que nos mantém próximos da ação, uma gestão metódica de um inventário limitado que nos força a tomar decisões difíceis, e uma escassez de munição que transforma cada bala disparada em um cálculo de risco e recompensa. Explorar os complexos industriais abandonados de Cronos é tenso. Cada porta aberta é uma hesitação, cada corredor escuro, uma promessa de perigo. A necessidade de voltar por áreas já exploradas, agora com novas ameaças ou caminhos desbloqueados, cria aquele mapa mental de risco e segurança que define os melhores jogos do gênero.

O problema, no entanto, não está na execução da fórmula, mas no seu ritmo. O jogo parece sofrer de uma crise de identidade, preso entre duas filosofias de design distintas. Por um lado, ele se deleita em longos trechos de exploração atmosférica, onde a tensão é construída lentamente pelo som ambiente, pela arquitetura opressora e pela solidão esmagadora. Nesses momentos, Cronos é sublime. Eu me sentia imerso, vulnerável, cada sombra parecendo se mover no canto do olho.
Por outro lado, ele busca a catarse através de encontros táticos e combates viscerais. E quando esses encontros acontecem, eles quebram o feitiço. O jogo te joga em arenas de combate que, embora funcionalmente competentes, parecem interromper a construção cuidadosa do horror psicológico. O resultado é um ciclo de “para e arranca” que nunca permite que nenhuma das duas filosofias de design floresça completamente. Os trechos atmosféricos parecem longos demais para quem espera ação, e os combates são frequentes e barulhentos demais para quem busca a imersão. É uma mistura dissonante. Os quebra-cabeças, felizmente, se saem melhor, muitas vezes utilizando a mecânica de viagem no tempo de formas inteligentes, exigindo que você manipule objetos no passado para alterar o layout do presente. São esses momentos de brilhantismo que tornam o ritmo irregular ainda mais frustrante, pois mostram o potencial de uma fusão que o jogo, em sua maior parte, não consegue concretizar.
A Dança Entre Dois Mundos
Aprofundando-se nas engrenagens de Cronos, encontramos duas colunas que sustentam toda a experiência: sua mecânica central de viagem no tempo e seu sistema de combate. A primeira, que eu chamo de “Motor Chronos”, é a grande aposta do jogo para inovar. Em pontos específicos ou através de um item consumível, a realidade se estilhaça e você é transportado para uma versão passada do mesmo local. O ambiente muda, corredores antes bloqueados se abrem, e “ecos” de pessoas se tornam visíveis. É uma mecânica usada principalmente para a resolução de quebra-cabeças e exploração, e funciona bem. Há uma satisfação genuína em encontrar um código em um terminal no passado para abrir um cofre no futuro. Onde a mecânica tropeça é na sua subutilização no combate. A ideia de puxar um inimigo para o passado, onde o ambiente é diferente, ou usar anomalias temporais como armadilhas, é explorada de forma superficial, deixando um gosto de potencial desperdiçado.
A segunda coluna é o combate, um sistema robusto e visceral. As armas têm um peso satisfatório. O coice da espingarda é brutal, e o som seco do disparo da pistola ecoa nos corredores de forma ameaçadora. Os inimigos reagem ao dano de forma palpável; um tiro na perna os faz mancar, um na cabeça pode atordoá-los ou, com sorte, explodi-los em um espetáculo de gore. A estratégia de desmembramento, de incapacitar em vez de matar para economizar munição, está presente e é crucial para a sobrevivência.

Contudo, o combate sofre de um problema fundamental, que se conecta diretamente à crise de identidade do gameplay. Ele é bom demais. E isso, para um jogo de terror psicológico, pode ser um pecado. A competência do sistema de combate me deu poder. Depois das primeiras horas, eu não temia mais os encontros; eu os via como desafios táticos a serem superados. A criatura grotesca que antes me causava certo pavor se tornou um padrão de ataques a ser memorizado e explorado. Em Cronos, ao me sentir um soldado competente, a atmosfera de horror existencial se dissipava, substituída pela adrenalina da ação. A crítica de que os combates são “repetitivos” faz sentido nesse contexto: eles são repetitivos não porque as mecânicas são ruins, mas porque eles transformam o horror em rotina. O jogo me deu ferramentas excelentes para lutar contra os monstros, mas, no processo, me roubou o medo deles. E em um jogo da Bloober Team, isso soa como uma traição à sua própria alma.
Sinfonia da Decadência
Se há uma área em que Cronos: The New Dawn não apenas acerta, mas atinge um estado de arte, é em sua apresentação audiovisual. Este é o território da Bloober Team, e eles o dominam com uma confiança assustadora. A direção de arte é a verdadeira protagonista do jogo. A estética, essa fusão de brutalismo do Leste Europeu com um retrofuturismo de neons doentes, é de uma beleza opressora. Mas é mais do que apenas um estilo visual; é uma declaração temática. A arquitetura brutalista, com suas formas maciças, seu concreto exposto e sua escala desumana, não é apenas um cenário; é a manifestação física da psique do protagonista e do mundo que o quebrou. As paredes frias e impessoais refletem um estado de alienação e depressão. O peso esmagador das estruturas é o peso do trauma. Andar por esses corredores é como caminhar dentro de uma mente em colapso.
Sobre essa fundação de concreto, o estúdio pinta com o pincel de Zdzisław Beksiński, o mestre polonês do surrealismo distópico. A influência é inegável, especialmente nas transições para o passado e no design das criaturas. Vemos paisagens de pesadelo, com estruturas que parecem feitas de osso e metal enferrujado, figuras humanoides contorcidas em agonia silenciosa, e uma paleta de cores de terra, ferrugem e carne apodrecida. É grotesco, perturbador e absolutamente hipnotizante. É a arte que não apenas mostra o horror, mas que é o horror.
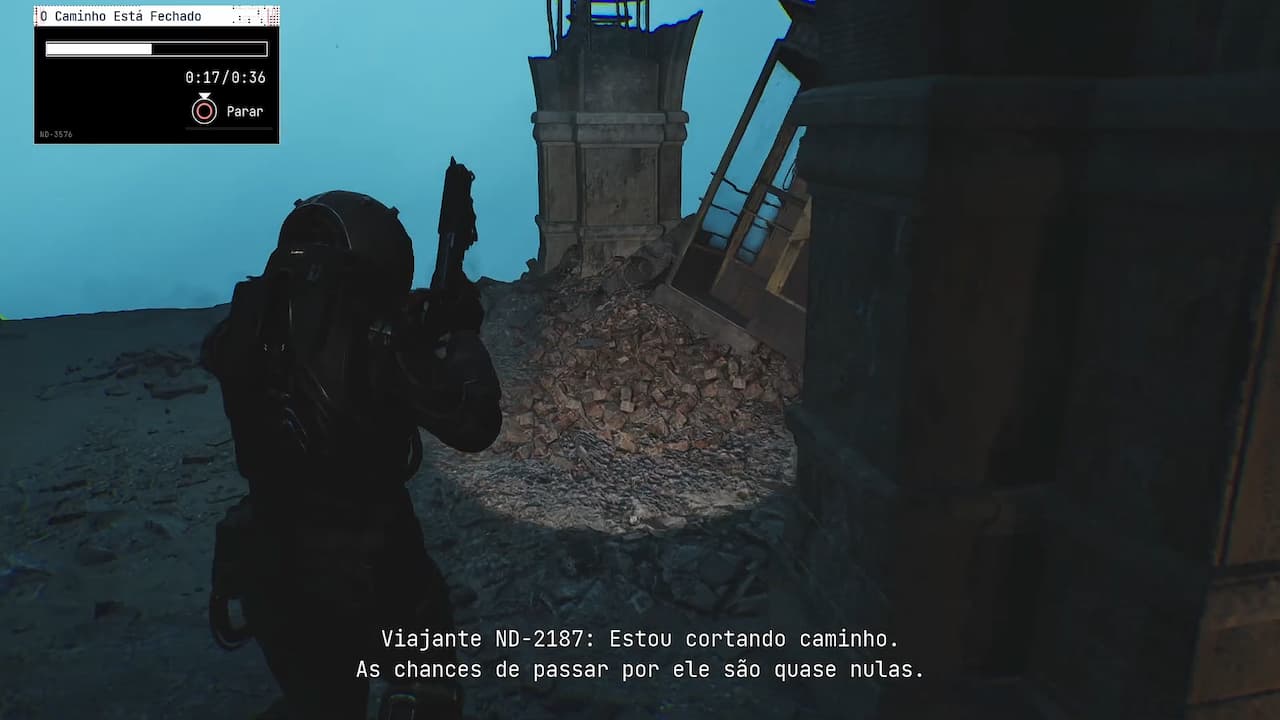
O design de som é o parceiro perfeito para essa visão infernal. O terror em Cronos vive nos silêncios e nos sons que os quebram. O zumbido constante de uma lâmpada fluorescente prestes a morrer, o gotejar distante de água em um cano, o rangido metálico de uma estrutura cedendo sob seu próprio peso, cada som ambiente é meticulosamente criado para gerar desconforto e antecipação.
O Preço da Ambição no Silício
E então chegamos ao concreto mais duro de todos: o desempenho no PC. Minha máquina, equipada com um Ryzen 7 5700x, uma RTX 4060 e 32 GB de RAM, é um equipamento moderno e robusto, mais do que capaz de lidar com a maioria dos lançamentos atuais. Com Cronos, no entanto, ela pediu clemência. O jogo é um devorador de recursos, e a culpa recai sobre um suspeito cada vez mais comum no mundo dos jogos para PC: a Unreal Engine 5.
Não se trata apenas de má otimização no sentido tradicional. Estamos falando de um motor gráfico cujas tecnologias de ponta, como o sistema de iluminação global em tempo real Lumen e a geometria virtualizada Nanite, são tão ambiciosas que o hardware atual, especialmente no segmento intermediário como a minha RTX 4060, simplesmente não consegue acompanhar sem sacrifícios significativos. A Bloober Team, claramente apaixonada pela fidelidade visual que essas ferramentas proporcionam, parece ter desenvolvido o jogo com elas como padrão, criando uma experiência que parece ter sido feita para as placas de vídeo de amanhã, não para as de hoje.
Na prática, isso se traduz em uma luta constante por uma taxa de quadros estável. Em 1080p, com tudo no máximo, incluindo Ray Tracing, o jogo engasga, caindo frequentemente abaixo dos 60 FPS, especialmente em áreas abertas ou durante transições de realidade. O infame stuttering de compilação de shaders, uma praga em muitos jogos UE5, faz sua aparição indesejada nos primeiros minutos em uma nova área, causando pequenas travadas que quebram a imersão. Para alcançar 60 FPS estáveis, fui forçado a ativar o DLSS no modo “Qualidade” ou até “Balanceado”, o que, embora seja uma solução eficaz, sempre deixa a sensação de que estou vendo uma versão comprometida da visão artística do jogo. O consumo de VRAM também é alarmante; a minha RTX 4060 de 8 GB frequentemente atingia seu limite, o que pode explicar parte da instabilidade, oque se torna cada vez mais evidente que 8 GB de VRAM está ficando inviavel.
Desligar o Ray Tracing resulta em um ganho massivo de desempenho, muitas vezes dobrando a taxa de quadros, mas o custo visual é bem baixo, o que se tornou um ponto positivo pra mim.
O Novo Amanhecer é uma Cicatriz?
Ao final da minha jornada por Cronos: The New Dawn, a imagem que permanece não é a de um monstro, mas a daquele primeiro monólito de concreto sob um céu doente. Ela é a metáfora perfeita para este jogo: uma obra de ambição monumental, com uma alma artística profunda e assombrada, mas aprisionada dentro de uma estrutura rígida, pesada e, por vezes, contraditória.
A Bloober Team se propôs a criar o seu magnum opus do survival horror, e em muitos aspectos, eles chegaram perto. A atmosfera é uma das mais densas e opressivas que já experimentei. A direção de arte é uma aula magna sobre como usar o ambiente para contar uma história de trauma e decadência. A narrativa, quando interpretada como uma alegoria da psique humana, atinge uma profundidade rara no gênero. Essa é a alma do jogo, e ela é brilhante, escura e inesquecível.

Mas essa alma está acorrentada. O concreto de suas mecânicas de combate, embora funcional, acaba por minar o horror psicológico que o jogo constrói com tanto esmero. Ao me dar poder, ele me roubou o medo. O concreto de sua fundação técnica na Unreal Engine 5 é visualmente deslumbrante, mas tão pesado e inflexível que esmaga o desempenho em hardware que não seja de ponta, forçando um compromisso entre a visão do artista e a experiência do jogador.
Então, Cronos é o novo amanhecer que o gênero esperava? Não. Um amanhecer sugere luz, clareza, um novo começo. O que este jogo oferece é algo mais complexo, mais doloroso. Ele é uma cicatriz. Uma cicatriz bonita, profunda e fascinante, que conta a história de uma luta gloriosa entre a arte e a mecânica, entre a narrativa e a interatividade, entre a ambição e a realidade. É um jogo que será lembrado não por sua perfeição, mas por suas falhas eloquentes e pela beleza assustadora de sua alma fraturada. E, como qualquer cicatriz, ela dói ao ser tocada, mas nos lembra da batalha que foi travada. E que batalha magnífica foi essa.
